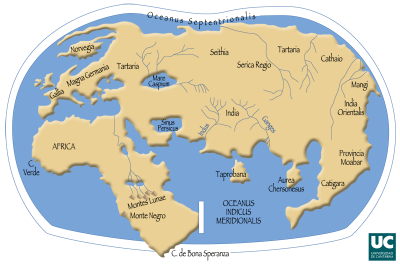Brasil, 1985. Um novo
momento político que se diferenciava dos últimos 21 anos anteriores, a qual a
nação brasileira conviveu com um regime político autocrático imprimido pelos
militares, que tomaram o poder nos idos de 1964 e que após os anos de obscurantismo
em razão do regime opressor e autoritário vigente, a luz voltava a brilhar no
Brasil com a redemocratização da política. Assim em 1985 o povo brasileiro
comemorava o fim do período considerado sombrio e, nesse mesmo ano chegava aos
cinemas do Brasil, o filme “Brazil” [1], película produzida na
Inglaterra pelo Diretor Terry Gillian. A produção do longa-metragem tivera na
época um grande orçamento avaliado em 15 milhões, porém, as arrecadações que o
mesmo obtivera não foram boas, e não supriram os gastos empreendidos. E o filme
acabou sendo considerado um fracasso.
O dito fracasso de público do
longa-metragem não impediu que o mesmo adquirisse fãs pelo mundo. É tanto que o
site IMDB[2] coloca a película Brazil
entre os 100 filmes considerados Cult. No país homônimo ao título da produção
inglesa do diretor Terry Gillian, são poucos os que conhecem o filme. Para
alguns olhos menos atentos (e principalmente nós brasileiros), após assistir a
película, ficamos com a impressão de que o titulo do longa não possui nenhuma
semelhança com o nosso país. Pelo fato do enredo do filme apresentar uma
sociedade futurista e tecnicista, aonde a burocracia impera, nada é resolvido
sem assinatura de papeis, e aqueles que discordam dos rumos tomados por aquela
sociedade são considerados sabotadores ou terroristas do sistema. Todavia, no
sentido comum da palavra, há algumas cenas de atentados terroristas contra
cidadãos comuns, que na maioria dos casos buscam agir com naturalidade a esses
acontecimentos (um prova disso é a cena do restaurante). O clima obscuro e
caótico construído pelo diretor do filme nos faz pensar: o que esse Brazil tem
haver com o nosso Brasil?
Segundo o historiador brasileiro Alcides Ramos, e baseado na perspectiva
do historiador francês Marc Ferro “O aspecto mais relevante do filme de
ficção, consiste na sua capacidade de dialogar criticamente com o “Presente”,
ou melhor, com as lutas políticas do momento histórico em que foi concebido,
produzido e exibido”. (Ramos, 2002, p.25)”. A idéia
do longa-metragem foi concebida e produzida antes do Brasil se libertar da
Ditadura militar. Até mesmo o lançamento do filme no exterior saiu alguns dias
antes do dia 15 de março de 1985. Data esta que marca o fim do regime militar,
com a posse de um presidente Civil. O longa-metragem de Terry Gillian não se
preocupa em destacar uma localidade, é tanto que no inicio do filme é revelado
que aquela estória se remete “Em algum lugar do século XX”. Apesar do ambiente
futurista, a sua temporalidade está presa a algum momento do século XX que já
ocorreu, ou estava para acontecer. Então quer dizer que esse Brazil realmente
não tem nada ver com o nosso Brasil? Diferente de alguns comentários que
encontrei na internet que elucidam que a única razão do filme se chamar Brazil
seja o fato do diretor inglês prestar uma homenagem ao compositor Ary Barroso
com a música Aquarela do Brasil, que será exclusivamente a única
melodia utilizada no filme (Brasil!
Pra mim, pra mim! Brasil!). Apesar desses comentários, ao longo da
película, observamos outras questões referentes ao momento que foi vivido pelos
brasileiros no período do regime militar. Então, vamos aos personagens.
No
filme dois personagens nos chamam atenção. Um deles é o protagonista Sam Lowry
(Jonathan Pryce) um burocrata que procura nos seus sonhos uma forma de fuga da
realidade vivida naquele mundo tomado por restrições e controle do Estado. Em
seus sonhos Sam Lowry possuía asas, isso pode significar uma possível alusão à
liberdade, que o mesmo não possuía. E nem tão pouco se sentia livre para se
apaixonar ou viver um amor, já que a mulher de seus sonhos é considerada
subversiva para o Estado. Outra imagem que nos chama a atenção é a figura de um
samurai que aparece no sonho de Sam Lowry que pode representar o Estado se
intrometendo até em seus sonhos. A ditadura e os burocratas do filme eram
perseguidores, oprimiam e tirava o direito de fala do povo, que não poderia
pensar em idéias que atentassem contra os ideais que o regime pregava. Podemos
analisar também outro personagem, chamado de Archibald Tuttle (Robert De
Niro) um engenheiro térmico que rompeu com o sistema burocrático vigente,
trabalhando por conta própria sem utilização de ordens de serviço, e que
diferente de Sam Lowry, tão pouco obedecia às ordens superiores, e os burocratas
observam Tuttle como um subversivo: um ser perigoso para o sistema.
Ainda sobre o segundo
personagem, na busca para prender Tuttle, os burocratas acabam prendendo uma
pessoa errada, devido um erro de digitação. A prisão de Archibald Buttle, um
homem inocente, se assemelha com algumas prisões promovidas pela ditadura por
excesso de autoridade ou até mesmo por erros como este representado no filme.
Percebemos que, até hoje em dia esses erros continuam, como a longa demora da
burocracia para retirar pessoas que foram injustamente presas, da mesma forma
aludida pelo filme Brazil. Os burocratas do filme interrogam seus
presos, assim como a ditadura militar fazia, com torturas físicas e
psicológicas, que chegam a levar até a morte do interrogado. Esse seria o caso
do Buttle que acaba sendo morto durante um interrogatório. Outros fatos nos
chamam atenção por se assemelhar com a realidade do nosso país. Como problemas
de infração, desigualdade social, utilização do famoso pistolão para angariar
cargos e etc. O Brazil do filme pode até não ser o nosso, porém, se assemelha
muito.
No
início do texto procurei falar que a ditadura no Brasil, foi um período obscuro
na nossa história. Esse clima pode ser análogo com o ambiente construído no
longa-metragem Brazil. Já que se observamos atentamente alguns detalhes podemos
perceber que, as cores aparecem com um tom de ares felizes, apenas, no sonho de
fuga de Sam Lowry, quando este está sendo interrogado pelos burocratas. Para
fugir daquela sociedade autoritária Sam Lowry se exila em seus sonhos. Na
ditadura muitos brasileiros tiveram que sair do Brasil e se refugiar em outras
nações, temendo por sua segurança. E desse lugar de fantasia Sam Lowry
cantarola com a melodia de Ary Barroso, dizendo que quer voltar para o velho
Brazil de antes, o Brazil anterior daquele pesadelo que tinha se tornado aquela
sociedade.Ou seria então, uma volta ao Brasil antes do golpe militar?
Ronyone de Araújo Jeronimo
[2] Para ver as especificações do filme “Brazil” feita pelo
site IMDB, conferir este link:http://www.imdb.com/title/tt0088846/?ref_=nv_sr_1